Não me olhe de cima. Autoexplicativo
O nome da esquerda (que ousa dizer seu nome)
Fonte: Convergência
http://blogconvergencia.org/blogconvergencia/?p=2821
O nome da esquerda (que ousa dizer seu nome)

Betto della Santa
Direita e Esquerda: razões e significados de uma distinção política – de Norberto Bobbio, filósofo italiano mundialmente reputado – teve tradução brasileira lançada apenas um ano após sua aparição na Itália, pela Editora Unesp, sob prefaciação de Marco Aurélio Nogueira poucos anos após a queda do Muro de Berlim. O que o projeto intelectual de Bobbio intendia, e seus congêneres brasileiros emulavam, era o que no mundo da política se consagrou como a síntese, por assim dizer, entre liberalismo, por um lado, e socialismo, por outro. O livro ganhou o mundo.
Para Além da Esquerda e da Direita: o futuro da política radical – de Anthony Giddens, conhecido sociólogo acadêmico britânico –, sob tradução de Alvaro Harttnher, pôs em circulação (pela mesma editora) uma obra surgida no contexto efetivo do mesmíssimo 1994, na Europa ocidental, tão-só um ano depois. A tradução da tradição seria reinventada por Giddens, e encontraria sólo fértil para uma versão tropical no Brasil, sob o codinome de guerra do que viria a ser a “Terceira Via” ou um neosocial-liberalismo. Tal qual dizem os italianos; tradutor, traidor.
A coincidência espaço-temporal (e suas respectivas aclimatações) impõe uma reflexão crítica. Se no compêndio universitário Anthony Giddens meneia a cabeça para fora do campus ensaiando pisar o palácio de governo, sob signo de uma velha-nova “revolução sem revolução”, é Norberto Bobbio quem vai exprimir um corpo de ideias vigoroso e claro o bastante como para merecer ser lembrado até hoje. Vinte anos após sua primeira publicação no país e passados já mais de dez anos de governos dirigidos pelo Partido dos Trabalhadores vale a pena ver de novo…
Esquerda, volver
Antonio Gramsci estabeleceu que o quantum máximo de consciência possível dos grupos sociais fundamentais na sociabilidade capitalista, i.e., os proprietários não-trabalhadores e os trabalhadores não-proprietários (ou exploradores e explorados), seriam, justamente, o liberalismo e o socialismo; enquanto as suas quotas mínimas, ou de maturação ainda “embrionária” – e “molecular” –, seriam, nas suas expressões mais baixas, o protecionismo por um lado, e o corporativismo por outro. Mas, e Direita e Esquerda, onde entrariam? Palavras têm história. E a história dos homens não tem sido outra senão a história das lutas de classes. Ora, senão, vejamos.
Esquerda, já o sabemos, trata-se de uma noção operativa e, sobretudo, relacional. Isto é, uma posição no interior de um Spectrum, a qual se referencia a partir de outras posições. Os significados – e as razões – da noção de Esquerda remetem, necessariamente, a Direita e a Centro; divisões que retém relevância, até hoje, ainda e quando a localização e a fronteira de cada uma esteja longe de ser fixa. A origem desse termo é sobejamente conhecida. É relativa à Revolução Francesa – marco histórico da política moderna – durante sua Assembléia Constituinte. Quão mais próximo/distante do piedoso ideal de igualdade social, mais Esquerda/Direita ser-se-ia.
Quer seja pelo pressuposto teórico conceitual – individual e social, respectivamente – ou pelo conflito histórico concreto, entre quem possui e governa e quem trabalha e é governado, liberalismo e socialismo representam politicamente irreconciliável antagonismo social. O escriba italiano considera o igualitarismo real impossível (“desigualdades naturais existem e, se algumas delas podem ser corrigidas, a maior parte não pode ser eliminada”; BOBBIO, 1995, p.102) ou improvável (“podem ser apenas desencorajadas”; idem, ibidem) porque, para ele, a defesa da superação de todas desigualdades seria resultado de uma “visão utópica (…) mas, pior do que isso, uma pura declaração de intenções, à qual não pareceria ser possível adjudicar … sentido razoável.” (idem, p.100.)
De raiz
Reanudar o núcleo vivo dessa contradição real – ou a dilaceração societária em classes – é tomar distância da letra do texto e do projeto político delineados por Bobbio. Uma esquerda digna desse nome deve começar por se lembrar que no princípio, antes do verbo, está a ação. Para uma esquerda que não abandonou a perspectiva revolucionária ousar dizer seu nome não é mais que um começo. Mas pode ser um bom começo. Inclusive, mesmo, bom começo de prosa. Se tradicionalmente Esquerda e Direita remetem a um sistema topológico de fronteiras móveis há algo para além (ou aquém) de desenhar a linha divisória. Algo quiçá mais antigo, subterrâneo.
Depois de confrontadas as relações passadas e presentes de uma distinção política entre Direita e Esquerda, e após aludir ao corajoso – muito embora autolimitado – e combativo título de Vladimir Safatle (2012), uma questão permanece em aberto. Para além de responder o que é Esquerda seria, no mínimo, importante, perguntarmo-nos o que a Esquerda é. Uma escavação arqueológica a contrapêlo da história das ideias se faz, aqui e agora, necessária. Há nas palavras Direita e Esquerda algo mais à contracorrente do quê, já pura e simplesmente, uma posição relacional nos vestibulares debates do parlamento, no processo político-social francês do Séc. 18.
O radical que une radicais, cujo substrato mais fincado remonta ao principio igualitarista, sejam eles anarquistas coletivistas, socialistas revolucionários ou comunistas internacionalistas, não deixa de ser o mesmo, nos mais distintos idiomas. Os vocábulos anarquismo, socialismo e comunismo permanecem similares em português e espanhol, inglês ou francês, alemão e russo; mas são usadas palavras muito diferentes para referir-se à esquerda: linke, gauche, Left etc. Com um juízo implícito, de sabor libertário, poder-se-ia concluir que, enquanto a Esquerda nos divide, anarquismos, socialismos e/ou comunismos são de fato, mais que por direito, aquilo que nos une.
“Gauche na vida”
Carlos Drummond fala de um anjo torto que lhe teria vaticinado ser “gauche na vida”. “Let’s play that”, de Torquato Neto, re-cita a referência drummondiana, como a necessidade férrea de “desafinar o coro dos contentes.” Apesar da forma de palavras tão manifestamente diferentes entre si – nas mais diversas línguas – há, nelas, algo de latentemente identitário: a obscuridade e/ou ubiqüidade de um sentido latente ao respectivo conteúdo. Left deriva da raiz Anglossaxã Lyft; Fraco; Débil. Já Sinistra, do Lat. Sinistrum, deriva de Mal; Infortúnio. O bem-aventurado seria “Ambidestro”, qual seja, habilidoso, com as duas mãos, isto é, as mãos Direitas.
Droit, Right, derecho, rechte, destro ou dret, o Direito, para que nos façamos destros e claros, tem significação a mais unívoca e positiva: a Retidão, as Leis, o Certo. Todo contrário de Canhoto o qual, aliás, tem de se adaptar a uma realidade espelhada, que se apresenta ao avesso, impondo-se-lhe um mundo invertido. Historicamente, em várias regiões do mundo, o lado Esquerdo, e em especial, o Canhotismo manual, foram considerados, essencialmente, negativos. Direito/Direita seriam a Autoridade/Justiça, Propriedade/Legitimidade, Autenticidade/Realidade. As associações de direito à Direita, e da direita a Direito falam, eloqüentemente, a esse respeito.[1]
As trilhas de tais considerações remontam linhagens da antiguidade clássica e passagens das mais remotas civilizações antepassadas. “Eres tan Zurdo”; “To have two Left feet”; “S’être levé du pied Gauche” e, enfim, “Que Canhoto/Canhestro!”, são sinônimos para o contrário do Bem e do Bom. As associações desfavoráveis – e/ou as conotações negativas – da utilização da mão esquerda entre diferentes culturas são variadas. Em algumas regiões, a fim de se preservar a limpeza pessoal quando o saneamento era problema de difícil solução, a mão direita, enquanto mão predominante na maioria dos indivíduos, foi utilizada para comer, manipular alimentos ou interagir socialmente. A mão esquerda era usada para a higiene sobretudo pós-micção/defecação.
Ezkerr, um nome próprio
No islamismo é costume usar a mão direita, em oposição à esquerda, como a mão para se levar comida à boca. No cristianismo a direita de deus representa a mão favorecida e Jesus está sentado ao lado destro. (A esquerda, porém, é a mão do juízo. O arcanjo Gabriel fica a seu lado canhoto, e é um dos seis anjos da morte.) Na Europa do Séc. 19 homossexuais eram chamados “Canhotos” enquanto, nas nações protestantes, os católicos foram chamados “Pés canhotos”. A magia negra foi referida como “caminho à esquerda”, fortemente associada a satanismo e, em muitos lugares, “mau-agouro”. No panteão Yorubá, Esquerda alude a energias pouco iluminadas.
Gauche, Left, izquierda, linke, sinistra, esquerra, a Esquerda, tem significado canhestro. Não bastasse, na língua portuguesa, o buraco é mais embaixo. O vocábulo Esquerda/Esquerdo advem do Euskera – idioma basco/vasconço –, Ezkerr, via Castelhano; Izquierdas. As diversas línguas nacionais da Península Ibérica – como o catalão, o galego e o castelhano; este último tão-simplesmente chamado “espanhol”, sobretudo na América Latina e/ou fora da Europa ocidental – herdaram à língua d’Euskadi – País Basco – radical comum Ezkerr: Izquierda/Esquerra/Esquerda.
Acontece que o idioma Euskera, basco ou vasconço, é justamente uma das únicas línguas vivas cuja origem é a mais absolutamente desconhecida, até hoje, dentre lingüistas, antropólogos e experts. Não pertence ao ramo filogênico indoeuropeu e tampouco tem qualquer similaridade com as estruturas lexicossemânticas / linguisticogramaticais de qualquer idioma/dialeto praticado nas proximidades e cercanias seja dos eixos Norte-Sul ou Oeste-Leste no continente eurasiático. Assim sendo, uma filologia vivente da palavra Esquerda demandaria conhecimento especializado no campo etimológico mais ardiloso da história social e político-cultural comparada das línguas.[2]
Da cultura à política, do político ao cultural
O processo histórico-social que a noção de Esquerda perquiriu até adentrar o vocabulário político moderno tem a ver com a temporalidade lenta das mais longas durações e à secular tradição do princípio igualitarista. E, acreditamos, não pode ser associado à mera casualidade o acaso objetivo de, àqueles que conspiravam contra o poder legal de veto real à Esquerda do parlamento, ter-lhes ocorrido postar-se do lado de cá e não no de lá. A relação política e cultural, com periféricos ou subalternos, deserdados da Terra e à margem da história, seria um mero azar? Uma escovação da história a contrapêlo permite, e um marxismo profano exige, tal interpretação.
Mas por que expressões como Gauchismo, Leftwing communism e/ou Ultraesquerdismo seriam taxadas pejorativas justamente entre a “esquerda da esquerda”? O Zeitgeist da época às vezes, como que de galhofa e/ou em tom de galhardia, pode soar tão zombeteiro quanto um verdadeiro espírito de porco. Longe de socialista revolucionário ou comunista internacionalista, como o eram Karl Marx e Friedrich Engels, quem se nos reconta – em tom de história oral e autobiográfica – é Renato Ortiz, um já reconhecido antropólogo cultural brasileiro. No 33º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a (poderosa) Anpocs de-há poucos anos Ortiz tomou parte à abertura na seção solene, “Conversa com o Autor”.
Para reconstituir à sua própria demarché um jornalista político francês é parafraseado para descrever/narrar um ambiente político e intelectual em que não se reconhecia mais como Esquerda a socialdemocracia ou o stalinismo naquele 1968 parisiense: “O gauchismo é como o Sal de que fala a escritura, seu sumiço levaria a um deserto de farisaísmo e imobilidade. (…). Seu destino não é a disciplina, mas a transformação. … a recusa. (…) Privada de gauchistas uma sociedade é dirigida à asfixia.” Um burocrata sindical exclamaria alto: —“Não somos nós!” para delimitar-se de anarquistas, dissidentes e trotskistas no cortejo do 1º de Maio. Ontem como hoje toda esquerda pode parecer extrema, se vista do palácio, e soar ultra, quando ouvida do gabinete. A crítica ao cretinismo antiparlamentar e o embate à idiotia eleitoral são parte da mesma herança.
Referências bibliográficas
BOBBIO, Norberto. Direita e Esquerda: razões e significados de distinção política. São Paulo: Unesp, 1995.
SAFATLE, Vladimir. Uma esquerda que não tema dizer seu nome. São Paulo: Três Estrelas, 2012.
[1] O jogo de palavras que dá nome à noção de Copyleft, em oposição a Copyright, não deixa de ser um belo exemplo.
[2] Sem qualquer pretensão de resolver a questão, por ora nos basta com saber que mesmo dentre os estudiosos há as mais diferentes versões polêmicas a respeito da genealogia do adjetivo Ezkerr. Além de uma curiosidade. Ezkerr, entre os bascos, constitui popular nome próprio. Curioso também notar que intelectuais tão perspicazes quanto Bobbio, Giddens e Safatle não tenham dito palavra sobre aquilo que, originalmente, a Esquerda quer, de fato, dizer…
Relatos Selvagens
Fonte: Blog Convergência
http://blogconvergencia.org/blogconvergencia/?p=2871
Relatos Selvagens

Diego Braga
Em vários aspectos relevantes, Relatos Selvagens, do argentino Damián Szifron, que estreia neste “longa” assinando direção, roteiro e montagem, é um filme de grande valor. As aspas no “longa” se explicam porque Relatos Selvagens é, a rigor, a justaposição de seis curtas-metragens que nada compartilham entre si em termos de elementos narrativos (personagens, trama, cenário, etc). O que liga os seis relatos é muito mais, com variações, o conjunto de elementos formais (linguagem, concepção, perspectiva, ritmo). Por outro lado, conceder tratar os seis curtas como um longa é, de certa forma, situar o filme dentro de uma estrutura de percepção pós-moderna, que renuncia à grande narrativa em prol do fragmento. Sobretudo quando, nos marcos deste modo de pensar pós-moderno, em que se identifica erroneamente totalização com totalitarismo, o fragmento aparece como pedaço de um todo que não existe ou cuja existência se condena como abstração de potencial opressivo. Esta maneira de situar o filme conforme um padrão ideológico – porque, gostem ou não, é isto que o pós-modernismo é – com bastante aceitação em boa parte dos setores cultos da sociedade é uma forma de preparar uma recepção mais favorável, abonada pela contraditória impressão de familiaridade vanguardista que a estética pós-moderna tende a instaurar.
Com isso, de forma alguma queremos dizer que o filme é esteticamente oportunista. Pretendemos apenas fazer, assumindo todos os riscos das generalizações, algumas indicações que permitem dimensionar e compreender o sentido de sua ampla aceitação por parte de público e crítica. Indiferente a quais possam ser estas indicações, Relatos Selvagens se impõe, com muitos dos méritos cabíveis à expressão cinematográfica, desde a primeira cena. Se tivéssemos que ressaltar um destes méritos, optaríamos pelo criativo posicionamento de câmera, tão variegado e cheio de tiradas de originalidade quanto insistente na recusa em instaurar um determinado ponto de vista para a narrativa.
A câmera transita, irrequieta, mas neste trânsito não assume o lugar de qualquer dos personagens, nem se estabiliza como uma visão de fora que possa se identificar como a do diretor e a dos espectadores. Já numa das primeiras cenas, a câmera se encontra dentro do compartimento para bagagens de mão no avião. É de lá, do ponto de vista da bagagem, que assistimos passivos às primeiras interações que, rapidamente, se desdobraram numa situação altamente tensa na qual os envolvidos também pouco podem fazer. Tensão, de certo modo, cômica pelo paroxismo, mas, sem dúvida, embora o modo como é narrada deixe isso pouco evidente, imensamente trágica. Não apenas para os passageiros do avião, mas para o personagem apenas nomeado cujo drama pessoal – que é social – está diretamente ligado à sua motivação na estória. E assim, o filme prossegue: a câmera se situa fora do plano padrão, nos dando uma visão inusitada dos fatos. O espanto não abre espaço para a reflexão, porque nenhum ponto de vista nos é sugerido como suficientemente estável para servir de ponto de apoio para o posicionamento crítico. A câmera assume ângulos inusitados, quase sempre de posições em que nenhum ser humano poderia ver a cena. Ora vemos desde o “ponto de vista” dos botões do teclado do terminal de autoatendimento, ora, nossa visão se situa na maçaneta da porta de vidro, na mesa do bolo e ao rés do chão. Há algo de Kubrick nisso, mas o modo como tal recurso se articula com os demais lhe dá outro sentido.
Este tipo de posicionamento de câmera instaura uma perspectiva que não é um ponto de vista específico, estável, a partir do qual possamos interpretar o todo da narrativa. Agrega-se a este elemento o fato de que nenhuma das visões é subjetivada. A câmera, salvo por breves e esporádicas tomadas, não nos dá a visada de uma consciência que possa julgar o que se desdobra diante dos nossos olhos. E o que se desdobra é bárbaro. Ocorre que “bárbaro” é um juízo demasiado consciente, cuja determinação é em grande parte socialmente condicionada. Diante da barbárie na telona, deslocado o juízo crítico pelo artifício estético, o que nos advém como reação quase reflexa se sucede como riso, tensão escaldante, ira e horror. Relatos Selvagens fisga a camada mais imediata de nossas reações e isso explica parte de seu grande apelo, cuja força é potencializada pela forma extremamente bem acabada, conscientemente elaborada para tal fim.
O envolvimento criado, porém, não é emotivo. Não se trata de provocar em nós indignação, mas fúria. Nada de suscitar o senso irônico: cabe instigar o riso tenso. Admitem-se o repúdio e o temor, mas quase sempre generalizados, vale dizer, nunca direcionados para um aspecto específico. Seria melhor dizer: o pânico em vez do temor, o asco em vez do repúdio, nos quais a consciência é sobrepujada pelas reações mais instintivas. A trilha sonora também trabalha neste sentido, somando-se como mais uma boa sacada. Via de regra, é não-funcional, ou seja, a música incide geralmente quando a cena inclui algum tipo de música tocando ou quando a narrativa se distancia do drama e se aproxima do videoclipe de música. Portanto, a trilha sonora, à diferença da produção cinematográfica mais comum, não é estrategicamente inserida na cena para provocar ou reforçar a emoção desejada. O resultado final é que o envolvimento do espectador torna-se ainda menos emotivo, ainda que radicalmente visceral. A subjetividade do espectador fica subsumida quase ao nível dos reflexos.
A dificuldade de envolvimento emotivo torna-se ainda maior quando se trata de estórias curtas, onde não há tempo para instalar no espectador relações afetivas com um personagem ou contra outro. Apesar disso, cada um dos relatos nos envolve muito rapidamente pela escalada progressiva da tensão. É possível que o esquema das peripécias cumulativas com que se constroem os roteiros seja uma influência dos produtores, os irmãos Pedro e Augustin Almodóvar. Este recurso é uma das marcas do cinema de Pedro e serve tão bem para o drama quanto para o cômico. A Szifron, porém, não falta personalidade. Ao desdobramento rocambolesco dos conflitos soma-se outro recurso, cujos rastros se mostram no fato de que, das ferrenhas rinhas que assinalam os conflitos nas seis histórias, apenas em dois (o segundo e o quarto relato) é possível que nos simpatizemos mais afetivamente com um dos lados do conflito. De resto, tendemos a vibrar e comemorar com um “bem feito!” toda vez que qualquer um dos dois lados da disputa sofre algum contragolpe brutal. Ou seja, nosso envolvimento é, em geral, contra todos, a favor de ninguém. Como os espectadores de MMA, somos levados a querer ver sangue.
O filme articula, então, duas linhas de força do pensamento pós-moderno: o nivelamento de todas as posições, ideias, pontos de vista, como relativos. Não nos alinhamos com nenhuma das posições. Todos nos parecem dignos dos mais terríveis destinos. Tanto o músico psicopata quanto aqueles que são impiedosos com seus deslizes. Tanto o caseiro que se vende quanto o ricaço que o compra. O adúltero e a mulher que usa o gentil cozinheiro como seu primeiro objeto de vingança. Não torcemos por ninguém, mas contra todos. Aí se expressa o que ideologicamente, na pós-modernidade, é a característica tendência a nunca dizer sim a uma determinada ideia ou projeto, não por repúdio a tal ideia ou projeto, mas apenas porque o sim implica um ao menos momentâneo não a todas as outras ideias e projetos possíveis. Não se pode adotar um ponto de vista sem excluir todos os outros. Diante deste dilema, o pós-modernismo opta por adotar todos os pontos de vista, que é nada mais que uma forma de não adotar nenhum deles. A subjetividade, caracterizada pela ação consciente, dilui-se assim no conjunto de alteridades possíveis, instáveis, mas nem por isso dinâmicas, pois não se realizam em nenhuma direção na prática. O que obviamente implica, ainda que por vezes não intencionalmente, deixar o que é vigente perpetuar o seu domínio.
Relacionada com esta relatividade, a forma de estruturação da linguagem de Relatos Selvagensnos lega, contraditoriamente, uma renúncia. Renuncia à subjetividade como princípio agente e consciente a partir do qual nos posicionamos no mundo. A recusa a tomar uma posição, implica a recusa à subjetividade. Nesta dimensão, a individualidade torna-se ao mesmo tempo alienada como objeto e blindada contra qualquer crítica que, necessariamente, manifesta um ponto de vista subjetivo. Criticar é tomar posição e defender uma determinada perspectiva, um projeto específico, um grupo de ideias mais ou menos delimitado. Subjetividade, porém, não é o mesmo que individualidade. Para o pensamento burguês, sim, mas para o pensamento marxista, não. Para o burguês, a ação e a consciência cabem sempre ao indivíduo, que é visto em contradição com o social, visto meramente como objetivo. Para o pensamento marxista, a ação e a consciência articulam dialeticamente o indivíduo e o social, que têm ambos, também, dimensões objetivas. Assim, embora procure minimizar a dimensão subjetiva – é impossível, a rigor, anulá-la por completa numa obra de arte –, em Relatos Selvagens toda ética é nivelada no âmbito atomizado do indivíduo, isenta, portanto, tanto de possibilidade de crítica quanto de efetividade social.
Neste sentido, até nos dois relatos em que, conforme afirmamos anteriormente, é possível haver uma identificação com um dos lados dos conflitos narrados – e, portanto, uma maior dimensão subjetiva na percepção destes conflitos – o comportamento e a resposta destas personagens são estritamente individualistas. Os dramas destes dois relatos, que, pelo mesmo modo como são retratados de maneira a deixar a brecha para a identificação subjetiva, também deixam entrever o âmbito social como parte do conflito, resolvem-se como um conflito entre o indivíduo e a sociedade, que é, contudo, ou personificada ou abstraída em instituições. Jamais é retratada como realmente é: um conjunto dinâmico de relações humanas. As relações humanas são colocadas sempre como relações individuais, o que contribui para desbastar algo de sua humanidade.
É assim que são retratados os personagens diante dos conflitos de classes, que aparecem em quase todos os episódios. O homem trabalhador contra um sistema burocrático, corrupto e anônimo. Dois homens na estrada cujos extratos sociais e individualidades são, sugestivamente, expressos por dois tipos diferentes de automóvel: um de luxo, outro precário, igualam-se ao se esmurrarem em luta pela sobrevivência. As trabalhadoras de um restaurante e um gângster com pretensões políticas. O empregado da casa moralmente corrompido pela proposta do patrão. Em todos estes conflitos de classe, porém, a expressão é totalmente individualizada. O âmbito social, político e histórico, que realmente dimensiona estes conflitos, desaparece no filme. Assim, desprovidos de quase tudo que é humano fora do âmbito do indivíduo, os conflitos são mostrados de maneira nivelada no plano do quase biológico, o homem como lobo do homem, os conflitos entre homens apresentados como brigas de galo, rinhas de cães, cenas de documentários da vida selvagem: a fúria cega, a violência animalesca, o sexo despudorado. Aí compreendemos o nome do filme e sua vinheta de abertura. Neste ponto justifica-se a muito propagada comparação de Relatos Selvagens com o cinema de Tarantino, muito embora a violência, neste, se dirija mais para o espetáculo que para a animalização.
Muitos dos condicionamentos que levam à expressão da barbárie nas relações entre os homens desaparecem quando a humanidade é restrita ao âmbito do indivíduo, principalmente quando este âmbito é retratado de uma perspectiva que quase sistematicamente recusa assumir a posição da subjetividade. Este, digamos, traço de “darwinismo estético” resulta tão eletrizante para os impulsos nervosos mais imediatos do espectador diante da tela quanto restritivo para as possibilidades do reconhecimento consciente por parte do mesmo espectador nos conflitos narrados. Quando a relação entre homens é mostrada como o conflito de indivíduos regido pela lei da selva torna-se difícil a identificação com a espécie humana. Ocorre que esta relação individualizada e selvagem entre os homens demonstra incrível semelhança com a realidade vivida pelo espectador, semelhança que se torna ainda mais evidente à medida que o filme a mostra de maneira exagerada, num paroxismo que chega a beirar o surreal, pintando com toda a clareza os seus contornos.
Esta clareza ao nível da violência concreta expressa corresponde ao embaçado de sua colocação como gênero. Aqui, também sob os ventos da pós-modernidade, o imediato é ressaltado enquanto se diluem os elementos que podem situar o filme no âmbito do geral.Relatos Selvagens, classificado pela crítica como comédia, tenta se situar nas fronteiras entre os gêneros. O que não significa que não seja em grande parte um filme comum. A limpeza da fotografia e o naturalismo sóbrio da produção contrapõem uma sensação de comodidade à tensão exacerbada dos enredos. Até mesmo os diálogos, ágeis e precisos, que articulam as situações mais inusitadas, são transparentes, não chamam atenção para si, parecem naturais dentro da situação exagerada. Tudo isso compõe uma base bastante natural sobre a qual o aspecto violento dos conflitos relatados e seus desdobramentos absurdos ganham todo o realce que nos mantém de olhos presos à tela.
Enfim, se não estamos errados em nossa avaliação, o filme realça um laivo de nosso modo de ser que é exacerbado na sociedade em que vivemos. Se isto tem um potencial crítico, também pode ser perigoso, porque exacerbar um aspecto não é senão ensombrear o outro, a saber: o da consciência e o da subjetividade, tão massacrados e marginalizados no império da reificação graças ao qual a vida de todos nós, os noticiários, as leis e o cotidiano estão repletos dos mais selvagens relatos. Talvez, se tivesse o filme mais carne política e amplitude de visão, fosse ruim, pela chatice ou pela banalidade. Ao que parece, justamente seu poder estético, que captura o espectador no mundo de hoje, resulta de sua fraqueza crítica: o fato de que mostra os homens em seus conflitos dentro das jaulas da individualidade, nas quais qualquer homem parece uma fera. Mostra-se esta jaula com a mesma distância e objetividade com que o zoológico nos mostra os leões e as onças. A barbárie ganha dimensões animalizadas que lhe parecem adequadas, não fosse o fato de que é levada a cabo por gente. Diante da exposição animalizada e individualizada da violência extrema é possível passar do hilariante ao horroroso como num glissando. A crueldade, assim, causa excitação. Os esportes sangrentos estão aí para o provar. Na linguagem do filme, não podemos nos colocar na visão dos bichos em suas jaulas. É isto que nos permite vibrar e rir diante da barbárie. Não vemos ali pessoas como nós, mas feras lutando pela sobrevivência segundo a lei do mais forte. Quase não é possível perceber que ela é, para nós, a lei do mais rico, a lei do gênero, a lei das instituições do Estado, da ideologia do sucesso como responsabilidade individual, etc.
Um outro filme, tão bom quanto Relatos Selvagens, mas que retrata a mais extrema violência desde um ponto de vista crítico, incitando a empatia ao provocar o horror, é Salò, ou os 120 dias de Sodoma, de Pasolini. Se acaso alguém não o viu, vale assistir junto com Relatos para comparar duas visões artísticas diferentes, igualmente primorosas.
Historia e imprensa: Veja como sujeito da política brasileira
Algumas capas da revista Veja, de 2013



Fonte BLOG CONVERGÊNCIA
http://blogconvergencia.org/blogconvergencia/?p=954
Historia e imprensa: Veja como sujeito da política brasileira
Carla Luciana Silva
O presente texto é a versão original de artigo publicado no Le Monde Diplomatique.[1] Foi construído a partir da solicitação editorial do jornal de que se escrevesse um artigo de apresentação geral sobre a revista Veja, uma espécie de resenha informativa do livro que publicamos sobre o papel de Veja na construção do neoliberalismo brasileiro nos anos 1990.[2] O objetivo era mostrar a revista para um público não residente no Brasil, que portanto trouxesse dados gerais, além de apresentar uma interpretação crítica.
A revista semanal de informações Veja é a mais conhecida publicação do gênero da América Latina. Sua tiragem é de 1.198.484 exemplares, sendo 924.329 na forma de assinaturas. [3] As leitoras (57%) de Veja superam o número de leitores homens (43%). São sobretudo da classe B (53%), sendo 20% A, 24%C e apenas 3% da classe D.[4] Assim, seu público leitor se concentra nas classes A e B. A faixa etária é variável, sendo 27% com mais de 50 anos, 21% de 25 a 34 e 20% de 35-44. São em sua maioria pessoas com formação acadêmica ou que estão fazendo cursos superiores.
O preço do exemplar avulso da revista é R$9,90. A revista desenvolve agressivas campanhas promocionais de assinaturas para manter sua cartela de clientes. Uma edição da revista tem aproximadamente 144 páginas, sendo por volta de 70, publicidade. A maioria provém de anunciantes privados, ou seja, não estatais. Os preços dos anúncios variam de R$272 mil a R$427 mil (capa).[5] É uma revista presente em muitos lugares públicos como consultórios médicos, estando presente também na maior parte das bibliotecas brasileiras.
O Grupo Abril [6] existe desde 1950, e foi pioneiro na abertura da midia brasileira ao capital externo, tanto com parcerias internas quanto em tentativas de expansão externas. Desde 2004, 30% da empresa pertence ao grupo Naspers, tornando-se o «primeiro conglomerado da midia brasileiro a atrair investimento ».[7] Seus investimentos centrais estão na área da edição (são mais de 50 revistas diretas), e na área da educação, onde atua de duas formas: com a venda de programas de ensino para órgãos privados; e na produção direta de materiais didáticos, em grande parte comprados por órgãos estatais. O Grupo encerrou o ano de 2011 com receita líquida de R$3,15 bilhões.[8]
A revista Veja é a principal publicação do grupo no sentido de buscar influência no âmbito político e na formação de consenso. Mais que notícias, com Veja aprendemos sobre como a direita se organiza e cria seus instrumentos de produção de consenso. Em qualquer situação, se coloca em postura externa, como se estivesse apenas observando e indicando ao seu leitor que “veja” o que ela lhe oferece. Essa postura oculta sua permanente interferência na política. Seu texto pretende-se poderoso, e em vários momentos da história recente do Brasil, soube exercer esse poder, articular e levar adiante interesses políticos. Mas, insiste em dizer que é “apenas um veículo de comunicação”, que faz o “rascunho da história”.
Veja surgiu em 1968, ano do Ato Institucional n.5, marco da radicalização repressiva da Ditadura brasileira, iniciada em 1964. A relação de Veja com a Ditadura sempre foi ambígua. A equipe responsável pelos primeiros anos da revista era heterogênea, abria espaço para jornalistas notadamente de esquerda, e foi censurada. Mas a linha editorial apoiava os grandes projetos da ditadura, as grandes obras, as empreiteiras, a indústria automobilística. E, igualmente importante, após a ditadura, nos anos 1990 e 2000, a revista cria uma versão sobre a ditadura em que sempre privilegia as vozes dos generais, sendo o ditador Ernesto Geisel o grande modelo exaltado, tratado como “o ditador esclarecido”.[9] O projeto de Geisel era intensificar a abertura econômica para o capital associado, equacionando os interesses do capital nacional e multinacional. Configura-se o que viria ser uma relação “capital-imperialista”,[10] em que a ideia de “Brasil-grande, Brasil potência” seria essencial. A revista tem contribuido para fundar uma memória apassivada dos Anos de Chumbo brasileiros.
Veja acompanhou e contribuiu com a construção da hegemonia neoliberal no Brasil, foi o seu “indispensável partido neoliberal”.[11] O fato jornalístico mais relevante da história da revista foi o impeachment de Fernando Collor de Melo. O primeiro presidente eleito após a ditadura construiu uma candidatura que se firmava no « combate à corrupção » e acabou deposto a partir de denúncias de corrupção ao seu governo. Ele estabeleceu as premissas das reformas neoliberais e levou adiante a reestruturação produtiva. Como não possuia forte base política, Veja buscou ajudar a pautar a linha política a seguir, colocando na agenda política as reformas, exigindo privatizações, fazendo campanha contra os funcionários públicos e defendendo a « mudança de comportamento do empresaridado» sobre as formas de gestão. Em sua auto-propaganda posterior, Veja forjou o mito de ter sido o grande instrumento para derrubar um presidente corrupto, dizendo ser o “quarto poder”, ou “os olhos do Brasil”.
Inicialmente, Veja ajudou a construir o candidato Collor e a fazê-lo vencedor, apoiando-se na imagem do candidato “jovem, bonito”, o “caçador de marajás”[12] sobretudo tournou-se o único candidato da direita frente a um forte candidato da esquerda, o Lula da Silva, em 1989. Essa posição estava em sintonia com outros grandes meios de comunicação, especialmente a Rede Globo de Televisão.
O “risco Lula”, ou seja, o risco de que fosse eleito, faz a revista alertar aos leitores, que mudanças estariam em curso e que colocariam em questão o capitalismo. Por outro lado, indica que Collor teria uma estratégia para «segurar o povão», e o coloca na capa para reverberar essa estratégia. Dessa forma, seus leitores encontram indicações do que fazer e como ajudar. O segundo turno foi a campanha eleitoral mais polarizada ideologicamente que o Brasil já teve. Mas a revista ocultava isso. Negava estar em jogo a relação entre capital e trabalho, que não deveriam, de forma alguma ser alteradas. Os editoriais da revista giravam em torno da necessidade de “abrir o Brasil ao capital estrangeiro”, ainda que isso tivesse que ser feito por meio de “medidas impopulares”.[13]
Depois, Veja passa a tentar definir a linha política de Collor, cobrando os ideais liberais, ensinando-o a tratar com empresários recalcitrantes ao seu projeto, com frases como: “a sociedade e o governo não podem contemporizar com empresários que querem capitalismo sem risco e sem competição”.[14] A revista se colocava como árbitro, indicando o que deveriam fazer a sociedade (da qual ela se exclui) e o governo. Em seguida surgiram muitas denúncias de corrupção, até que o próprio irmão de Fernando Collor concede uma entrevista à revista Veja, considerada como estopim da campanha contra ele. No entanto, isso não significou que a revista tenha aderido à campanha anti-Collor, pelo contrário, exerceu o papel de contenção, buscando o consenso, a conciliação para manter o presidente no governo. Somente quando a situação ficou insustentável, ela timidamente sugeriu que o governo deveria renunciar. Posteriormente, elaborou uma imagem pública apresentando-se como o grande arauto da democracia brasileira por ter ajudado a derrubar um presidente corrupto. Em seguida, exerceu permenente pressão sobre o governo de Itamar Franco. Só houve trégua quando Fernando Henrique Cardoso foi escolhido ministro, abrindo espaço para sua posterior candidatura e vitória como denota a capa “Grande Tacada”.
 Veja. 26/5/1993
Veja. 26/5/1993
Ja no início do governo de Cardoso Veja elogia o «rumo certo», montando uma capa em que o presidente aparece com roupas militares. Ele é elogiado por ter “peitado” a CUT, ou seja, ter reprimido uma greve através da intervenção militar.[15] Doravante, assim seriam tratadas as organizações dos trabalhadores.
A presença de intelectuais e políticos vinculados ao PSDB[16] nas páginas de Veja durante os anos em que o partido esteve no poder foi permanente. A campanha vitoriosa de Fernando Henrique para presidente em 1994 contou com todo apoio de Veja. A capa da revista nas véperas das eleições dava a manchete: “o que o eleitor quer: ordem, continuidade e prudência”[17] eram as apostas de Veja, o que era facilmente associado pelo leitor com o candidato Fernando Henrique, que já mostrado como o Ministro do Plano Real. Quando o ano acabou, a revista comemorava com edição especial, lançando slogans: “1994, Eta ano bom”, “Eu acredito. 1995”. O tom era de total apoio e otimismo.
Nos oito anos de governos de Fernando Henrique Cardoso houve uma sintonia permanente entre a revista e o governo, embora Veja sempre relembrasse o “rumo certo”, a sequência do plano Real como forma de aplicação do neoliberalismo brasileiro, especialmente as privatizações e a flexibilização das leis trabalhistas. Nas comemorações dos 80 anos de FHC, o presidente do Grupo Abril registra sua homenagem pública: “Tivemos muita sorte em tê-lo na presidência” (Roberto Civita).[18]
Já a relação de Veja com o Partido dos Trabalhadores sempre foi marcada pela ambiguidade. Até os anos 2000 o PT era visto e tratado como um perigo, expressando a marca ditatorial de se relacionar com a organização da classe trabalhadora.![]()
O que querem os radicais do PT foi a capa em vésperas das eleições de 2002 quando Lula viria a ser eleito presidente. A revista delimita sua função de alertar a população contra o “radicalismo” que estaria não em Lula, mas em parcelas do seu partido. A guinada para a direita do partido,[19] recebeu apoio de Veja, especialmente na manutenção da política neoliberal e no encapsulamento dos movimentos sociais. A revista manteve-se firme em vigiar as ações do governo e tentando influenciar no debate junto ao congresso Nacional.
Na lógica do pensamento único, Veja apoia a repressão, desqualifica o movimento da classe trabalhadora, salvo aquele moldável e inepto para a luta. Também por isso a cobertura internacional dá especial atenção aos governos de esquerda latino-americanos, tratados como se fossem “ditaduras populistas”. A capa abaixo mostra o presidente Lula com um “pé no traseiro”, porque estaria sendo ingênuo diante da política do presidente da Bolívia, Evo Morales.[20] Os interesses das multinacionais brasileiras que exploram os demais países latino-americanos sempre prevalecem em Veja.
Atualmente, há uma fase defensiva, pois a revista vem sendo acusada de envolvimento direto em corrupção. Seu editor político aparece associado a um empresário acusado de gestar um esquema de corrupção, o que levou inclusive à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como a “CPI do Cachoeira”. Policarpo Junior,[21] diretor da revista é acusado de publicar notas e reportagens na revista de acordo com os interesses do empresário. Estão no alvo da investigação reportagens da revista, que teriam servido a interesses escusos.
A série de manifestações e denúncias contra a revista, especialmente na blogesfera suscitam sua virulenta reação, chegando a colocar uma chamada de capa: “táticas de guerrilha para manipular as redes sociais”,[22] onde acusa o Partido dos Trabalhadores de colocar um robô para postar contra a revista no twitter. Em solidariedade, o jornal concorrente O Globo apoiou Veja, “em defesa da liberdade”. A imprensa deve vigiar a todos (quarto poder), mas se for ela investigada tratar-se-ia de cerceamento à liberdade.
A revista tem usado páginas e mais páginas de “cartas de leitores” exaltando a sua própria importância, cheias de auto-elogio. Segue portanto, buscando manter seus fieis (e)leitores e manter a aparência de um “simples veículo” de comunicação. No entanto, passados mais de 40 anos, o capital bancário, financeiro e a indústria automobilística permanecem os grandes anunciantes da revista. Os seus interesses, assim como os do grupo Abril e tudo o que representa são efetivamente um projeto para o Brasil, o projeto neoliberal. No início da década de 1990 Veja publicava uma matéria de capa “Brasil anos 90: uma agenda para vencer o atraso”,[23] apontando para a reforma do Estado como um dos objetivos centrais. E foi justamente esse projeto que Veja ajudou a construir nos anos 1990, buscando pautar a política brasileira.
Como esse poder se construiu é difícil de explicar, mas o poder da grande midia no Brasil, a midiatização da política ja são históricas. O processo de concentração das empresas de midia apenas piora a situação, porque os interesses das empresas da comunicação se ampliam, levando a alianças e acordos que aparecem estampados nas bancas de revista como simples capas bem produzidas.
Notas:
[1] Texto entregue ao Le Monde Diplomatique (Paris), em 22/6/2012. Publicado sob o título “Veja”, lê magazine qui compte au Bresil. http://www.monde-diplomatique.fr/2012/12/SILVA/48470. Publicado, após edição e modificações aprovadas pela autora na edição de dezembro de 2012. Reproduzido e retraduzido, em versões distintas, nas edições nacionais do no Le Monde Diplomatique do Chile, da Espanha, de Portugal e do Brasil no mês de dezembro de 2012.
[2] SILVA, Carla. VEJA: o indispensável partido neoliberal. Cascavel, Edunioeste, 2009. coleção Tempos Históricos.
[6] «A Abrilpar, é o holding da família Civita e controla a Abril S.A, detendo o controle do capital da Abril Educação S.A, além de uma série de outros empreendimentos ». http://www.grupoabril.com.br/estrutura/estrutura-10.shtml. A Abril S.A. A divisão societária é : Ativic: 37,58%; Naspers, 29,99% e família Civita 32,43%
[7] Veja. 14/7/2004.
[8] Valor Econômico, 9/4/2012.
[9] O ditador esclarecido. Veja, 22/10/1997.
[10] FONTES, Virginia. O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e História. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, EPSJV, 2010.
[11] SILVA, Carla. VEJA: o indispensável partido neolbieral. (1989-2002). Cascavel, Edunioeste, Coleção Tempos Históricos, 7. ISBN 978.85.7644.196.0
[12] Capa de Veja. 23/3/1988.
[13] Veja. Editorial. 11/10/1989.
[14] Veja. 7/11/1990.
[15] Capa, 31/5/1995.
[16] Partido da Social Democracia Brasileiro. Partido de Fernando Henrique Cardoso, que, eleito duas vezes consecutivas, governou o Brasil de 1994 a 2001. Sua plataforma foi a mais neoliberal até então assumida por um presidente da República no Brasil.
[17] Veja. 5/10/1994.
[19] COELHO, Eurelino . Outra Hegemonia: sobre algumas leituras petistas de Gramsci e suas reviravoltas. Outubro (São Paulo), São Paulo, v. 12, p. 123-141, 2005.
[20] Veja, 10/5/2006.
[21] Policarpo Junior foi alçado à condição de Redator Chefe da revista em janeiro de 2012. É responsável pela editoria política de Brasilia, centro do poder político brasileiro.
[22] Veja. 16/5/2012.
[23] Veja, 1/8/1990. Capa.
Veja. Indispensável
“ Follow the money”
PORTARIA DO MEC QUE MORALIZA
COMPRA DE LIVRO DIDÁTICO CORTOU
R$ 40 MILHÕES DO FATURAMENTO DA ABRIL
Publicada em 17/10/2006
“As empresas não têm ideologia, têm negócios”.
A definição acima, pinçada dos estudos sobre cultura de massa dos filósofos alemães Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973), pode estar na origem da ira da Editora Abril e sua principal ponta-de-lança, a revista Veja, contra o PT e o governo Lula.
A artilharia da revista para a dinamitação de um então hipotético segundo mandato de Lula teve início na edição de 25 de maio do ano passado, com a capa do rato trajando terno, gravata vermelha e uma cigarrilha entre os dedos.
Nesse período, aponta reportagem do Valor Econômico de hoje, na reportagem “Editoras menores vendem mais ao governo federal”, já se preparava no Ministério da Educação a portaria 2.963, que viria a ser publicada dois meses depois no Diário Oficial.
Assinada pelo ministro Fernando Haddad, a portaria 2.963, “dispõe sobre as normas de conduta para o processo de execução dos Programas do Livro”, proibe a distribuição de brindes e vantagens, veta a publicidade e a produção de eventos promocionais nas escolas, entre outros recursos de marketing que pudessem induzir os professores à escolha dos livros que iriam usar nas salas de aula.
“As regras para a divugação de livros ditáticos nas escolas públicas mudaram. E o jogo virou a favor das editoras de menor porte”, diz o Valor.
O governo brasileiro é o maior comprador individual do mundo de livros didáticos. No ano que vem, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) vai comprar 102 milhões de exemplares para distribuição gratuita nas escolas públicas.
A mudança nas regras de divulgação não foi nada boa para a Abril, pois colocou na ilegalidade suas práticas de marketing e divugação junto aos professores. Ao Valor, o diretor-geral da Abril-Educação, João Arinos dos Santos, diz: “Reconhecemos que pode ter havido excessos na divulgação, mas acreditamos que a forma de coibir isso não é proibir a divulgação”.
O descontentamento de Santos mora na queda do faturamento da Abril. Em 2004, as duas editoras de livros didáticos da Abril – Ática e Scipione – ocupavam o primeiro e o quarto lugar entre as maiores fornecedoras, totalizando contratos de R$ 128,7 milhões. Com o fim dos “excessos na divulgação”, perderam 30% do mercado – ambas vão faturar R$ 88,4 milhões – ou R$ 40 milhões a menos do que em 2004. Em 2004, o PNLD gastou R$ 412,4 milhões; no ano que vem, vai desembolsar R$ 456,7 milhões.
Recomenda-se a leitura na íntegra.
Valor Econômico – Editoras menores vendem mais ao governo federal
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Íntegra da portaria no site do FNDE
Extraído do blog www.contrapauta.com.br.
Enviada por Ana Rosa Silva.
O país da água (com gráficos)
Oscar Niemeyer
“Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo ouniverso, o universo curvo de Einstein.”
Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro

Uma elite que combate o Bolsa Família, mas não se acanha em usar o Estado
FONTE CGN
Uma elite que combate Bolsa Família, mas não se acanha em usar mordomias do Estado
Por Ana Helena Tavares
O bolsa-madame e o bolsa-família
Do QTMD? (Quem tem medo da democracia?)

Um grupo de mulheres de deputados reúne-se num chá oferecido por uma delas. O convidado de honra é Eduardo Cunha. No cardápio, um pedido para que volte um benefício que garante às madames passagens de graça para acompanhar os maridos.
O que isso diz sobre a sociedade brasileira? Machismo em alto grau partindo de mulheres. Hipocrisia de uma elite carcomida que combate políticas públicas para os mais pobres, mas não se acanha em usar e abusar das mordomias do Estado.
A uma ex-catadora de papelão, que se tornou presidente da Petrobrás, não é permitido roubar. Se roubou ou não pouco importa. Não é com isso que as madames bem-nascidas estão preocupadas. Ela simplesmente não pode roubar. Os maridos iluminados podem.
Num mundo em que todos comam, onde todas as classes, cores e credos sejam julgados da mesma maneira, como madame poderá ser madame? Como aeroportos poderão ter o vazio sepulcral dos lugares reservados a privilegiados?
É dolorosamente atual a frase de Raymundo Faoro: “Eles querem um país de 20 milhões de habitantes e uma democracia sem povo”. E como dói constatar que, depois de tantas lutas por direitos iguais, elas também querem isso.
Não são todas, é claro, para alívio da nação, mas a composição do Congresso que toma posse neste domingo, 1º de fevereiro de 2015, não deixa dúvidas quanto ao caráter conservador, machista, preconceituoso, da maior parte da sociedade brasileira.
O dinheiro pode ser livre – para quem convém que seja livre. Seres humanos têm que viver presos. Presos à moral alheia, presos a dogmas. E, aqueles que “não deram certo”, presos a grades. Quiçá, mortos.
Num país de senzalas inconfessas, não é de se espantar que distintas senhoras não se contentem em viver à custa de homens. Querem mamar nas tetas do erário. Não lhes envergonha em nada receber o “bolsa-madame”. Faz parte da nossa tradição secular.
Se forem vistas por aí em alguma passeata contra a roubalheira na Petrobras e contra o bolsa-família, dirão que estão lutando para salvar o Brasil. E serão capa da maior revista semanal, como já foi o “caçador de marajás”. A honestidade dos que dizem lutar contra a corrupção me comove.
O gráfico da morte – Boko Haram, Nigéria, África.
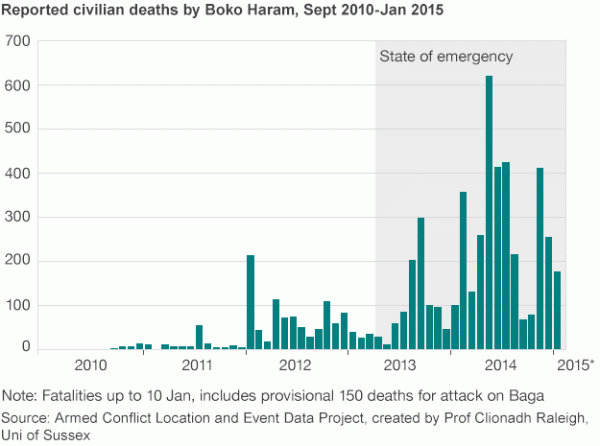
Vemos aqui a expansão do Boko Haram e seus homicídios pretensamente ideológicos. Bando de assassinos. Infelizmente não consegui recuperar a fonte, mas, por favor, prestem atenção. HILTON BESNOS
A pitonisa

O homem, após seu banho ritual, com a preocupação a roer sua alma, finalmente colocou-se em posição para perguntar à Pitonisa. Com gravidade, perguntou, mas não obteve resposta. Ele não acreditou no silêncio, mas o tempo havia terminado e com ele as possibilidades de obter o que desejava. De repente, havia um peso em sua alma, e um coração que se negava a aceitar o que acontecera. O momento já passara, e tudo parecia estar caminhando rápido demais.
Já na estrada que o afastava de Delfos, seus pensamentos não o abandonavam. Afinal, não tinha sido digno de receber uma resposta? Afinal, o que ocorrera, buscando uma alternativa que pudesse aplacar a sua angústia. Quanto tempo, quantos sacrifícios e angústias o acompanhariam até que houvesse uma nova oportunidade ou o Destino encaminhasse o que o levava em turbilhão até Delfos?
A cidade sagrada já estava há pelo menos três horas de distância quando a estrada tornou-se um manto noturno, sem que ele percebesse, absorto que estava em suas inquietações. De súbito um vento congelante alcançou-o e com ele a Morte. Entendeu, por fim, porque a resposta não viera, mas nada poderia fazer, nenhuma alternativa o alcançaria. Àquela altura, a insensível Átropos já havia cortado o fio de sua vida. HILTON BESNOS



